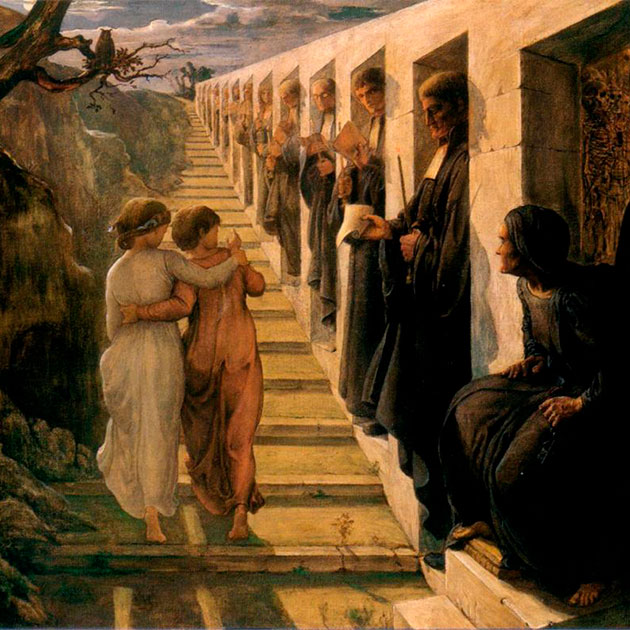O monitoramento é considerado um componente essencial do cuidado das pessoas que sofrem com a dependência química – ou com qualquer outro tipo de compulsão. Ele parte do princípio que a porção consciente do cérebro – a região cortical – por mais que esteja disposta a dizer “sim” para um projeto de mudança de comportamento, encontra-se enfraquecida, desvitalizada – tanto do ponto de vista neurobiológico, quanto da estrutura psicossocial – para dizer “não” às oportunidades de consumo.
Como resultado desse desbalanço, promessas e ímpetos de mudança – quase sempre sinceros e lastreados pelas mais nobres convicções pessoais – são quebradas e refreados com tamanha facilidade, que o usuário, perante essa incomensurável e incompreensível discrepância – pelo olhar da família e do seu entorno sociocultural –, vai paulatinamente sendo esvaziado de sua autonomia, passando a ser visto como ingênuo, irresponsável, louco, manipulador, enfim, alguém no mínimo desprovido de credibilidade social e não digno de confiança.
Quando o desejo de recuperação resplandece no horizonte da mudança, o descrédito – fruto de perdas sucessivas, de acordos rompidos e de planos de retomada fracassados – é, em geral, o ponto de partida da maior parte dos dependentes. Tal insegurança emana não apenas da dúvida acerca da capacidade do dependente de permanecer longe do consumo de substâncias psicoativas: ela coloca igualmente em xeque sua capacidade de ser previsível e estável perante os novos acordos sociais e combinados terapêuticos firmados, os mesmos que outrora foram facilmente descartados diante dos apelos do consumo.
Em geral, o monitoramento se inicia pela elaboração de um contrato terapêutico, que estabelece rotinas, testagens de drogas, utilização de medicamentos e outros compromissos. Ao invés de um “big brother is watching you”, um agente repressor ou um meio de uma tutela infantilizante, o monitoramento é, na realidade, uma carta magna, com os direitos, deveres e suas consequências – tanto para o paciente, quanto para a família –, cujo objetivo primordial é estruturar um funcionamento psíquico mais democrático, num lugar outrora tomado pelo governo despótico e imediatista da dependência.
O monitoramento tem dupla função. Em primeiro lugar – na vigência do desejo sincero e motivado em dizer “sim” para abstinência – fortalece a capacidade da pessoa de dizer “não” aos apelos do consumo, uma vez que que o monitoramento, além de reduzir e dificultar o acesso às oportunidades de consumo, também impossibilita que eventuais lapsos permaneçam perigosamente em segredo, ganhando força e se repetindo, até se converterem em recaídas, que reinstalam todo o processo de dependência. É extremamente interessante notar, como o dependente que tentava omitir suas recaídas de maneira impetuosa e arrogante, nos primeiros tempos do tratamento, assume com naturalidade e orgulho uma postura mais ética perante suas recaídas – passando a assumi-las com naturalidade e sinceridade, buscando soluções conjuntas com a equipe de tratamento e assumindo o ônus dessa intercorrência – quando as chances de consumir ocultamente são vedadas pela instituição, em comum acordo, de testes de drogas na urina. A vontade de dizer “sim” foi privilegiada, ao invés de condutas altamente passíveis de ambivalência. O resultado disso é chamado de amadurecimento e aumento da assertividade.
Em segundo lugar, o monitoramento é o principal recurso que o usuário tem contra o descredito social que o cerca. Nos primeiros tempos do tratamento, seguir regras e prestar contas é altamente estruturante para ele. Regras que se pautam inicialmente em torno das providencias que precisam ser tomadas a fim de garantir a abstinência, bem como o comparecimento ao tratamento e às atividades instituídas para ocupar o espaço que antes pertencia às rotinas de uso. O monitoramento demonstra ininterruptamente – para o usuário, para a equipe de tratamento e para a família – que o dependente é capaz de se manter abstinente, ao mesmo tempo em que se envolve em uma nova estrutura e estilo de vida. Uma coisa levando à outra, o propósito de uma fortalecendo o propósito da outra, até o trio paciente-família-tratamento se sentir mutuamente fortalecido para estabelecer laços de confiança independentemente de testemunhas ou marcadores.
A presença do monitoramento, quanto instituído na intensidade correta, confere grande tranquilidade ao usuário, uma vez que o alivia tanto dos apelos e das oportunidades de uso, quanto do estresse proveniente do receio e da desconfiança do seu entorno em relação a sua capacidade de permanecer “na linha”. Mas… qual é o momento de encerrá-lo, ou, pelo menos, diminuir sua intensidade? Na prática, após algumas semanas – meses até – muitos pacientes, começam a ver o monitoramento como um grande incômodo, um cerceamento de sua liberdade.
Acontece que o critério não é temporal. Tal qual um osso fraturado, que necessita de um tempo de imobilização, seguido de fisioterapia e aumento progressivo de carga, o monitoramento se presta a auxiliar um processo – em parte biológico, em parte psicossocial – que necessita de proteção para suscitar uma recuperação saudável, vigorosa e estável. O ortopedista tem o tempo como referencial, principalmente para orientar os seus pacientes – ele sabe, no entanto, que o responsável pela resolução da fratura não é o tempo, mas sim o processo de consolidação do osso – tendo no molde de gesso apenas uma garantia de proteção contra solavancos.
Trazendo o mesmo raciocínio para o tratamento da dependência química, considerando o monitoramento como o gesso imobilizador, é o processo de consolidação da mudança pretendida – e não o tempo – que deve poder ser visto como critério para a sua retirada. Assim como na ortopedia, a reestruturação biológica do cérebro – a partir da abstinência monitorada –, por si só, já é um fator de melhora e de ampliação do campo vivencial do indivíduo – especialmente quando moldada por abordagens psicossociais adequadas. Infelizmente, a clínica da dependência não conta com raios-x, tomografias e ressonâncias para avaliar concretamente esse fato clínico.
Dessa forma, a investigação que se faz nesse sentido é: que tipo de ganho, conquista ou aquisição de “patrimônio psíquico” são oriundos do processo de tratamento instituído, na vigência do monitoramento? O usuário se assenhorou de rotinas e novos comportamentos de um modo natural e responsável, com o se o monitoramento não existisse? A partir do monitoramento, o usuário vivenciou o prazer de singrar por “mares nunca dantes navegados” – por exemplo, teve um semestre bem-sucedido na faculdade, começou a reconquistar prestígio em seu trabalho, passou a encarar problemas de um modo mais assertivo, graças a um envolvimento real em sua terapia e reuniões em salas de mútua-ajuda? Revisitou o seu passado com o intuito de superar adversidades e se tornar uma pessoa mais autônoma, ao invés de procurar culpados? Eis o processo de consolidação da mudança – facilitado pela presença da abstinência, mas nunca gerado espontânea ou milagrosamente por ela.
Não existe um método consensual para gerenciar a vigência e a intensidade do monitoramento. Alguns precisarão ser monitorados por poucas semanas, partindo de acordos eminentemente verbais, enquanto outros, precisarão de acompanhantes vinte e quatro horas por dia, sessões com mais de um profissional algumas vezes na semana, grupos de mútua-ajuda, testagem de drogas e uso de medicamentos aversivos, meses a fio. Reuniões com familiares para discutir crises e recaídas são comuns nos primeiros tempos. Períodos de internação breves não estão descartados. Alguns indivíduos apresentarão ganhos incríveis a partir desse método, os quais possibilitarão a instituição de medidas de monitoramento progressivamente menos intensivas, enquanto outros apresentarão estabilidade apenas enquanto estiverem monitorados.
Ao final, haverá um grupo amplamente autônomo e livre de qualquer monitoramento, outro grupo autônomo graças à manutenção de algum tipo de monitoramento – ainda que seja uma sessão quinzenal de terapia ou comparecimento mensal a uma reunião de mútua-ajuda – e um terceiro grupo, para o qual o monitoramento funciona praticamente como um cuidado paliativo, trazendo o benefício da abstinência ou da redução do consumo enquanto ele está vigente, sem que tal ganho se converta em aumento de crítica ou de estruturação de autonomia por parte do usuário.
Voltando à ortopedia, alguns processos de consolidação requerem meses de repouso acamado, seguidos por um período ainda maior de fisioterapia. Muitas vezes, pinos, fios e arames metálicos permanecerão para sempre como parte da estrutura óssea. Pode ser que o acidentado tenha que conviver definitivamente com algum tipo de limitação de movimento. Ainda assim, por mais que se reclame dos meses acamados ou da bota de gesso, o ortopedista não é encarado como o agente “cerceador de liberdade”, por mais frio, autoritário e distante que possa parecer. A vida pode ser entediante, mas a causa disso não é a conduta médica em curso, mas, sim, o acidente causador da fratura. Além disso, a reconquista da autonomia do movimento vai superando as adversidades, motivando novos desafios.
Eis o espírito da recuperação, em parte tão assemelhado aos preceitos da ortopedia: assumir a devida responsabilidade tanto pelo processo de consolidação da mudança, quanto pelo gerenciamento dos processos autônomos da doença, arcando com as consequências das escolhas feitas no passado, conforme os limites que nortearão o futuro vão sendo assimilados. Depois disso, já dá para pensar em tirar o gesso – mas experimente perguntar ao ortopedista se o tratamento da fratura consolidada acabou por aí.
Marcelo Ribeiro, psiquiatra, membro do Programa de Pós-graduação do Departamento de Psiquiatra da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), docente do Curso de Medicina da Universidade Nove de Julho (Uninove), diretor do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e outras Drogas (Cratod) da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas de São Paulo (Coned).